G) Diálogo Final entre Parmênides e Kardec
- Vinícius Costa

- 11 de out. de 2022
- 4 min de leitura

O exercício filosófico proposto por este trabalho almeja, ao colocar os filósofos para conversarem com Kardec, e por conseguinte, com a doutrina do Espíritos, clarear as semelhanças e diferenças que cada pensador possui em relação ao Espiritismo. Dessa maneira, percebe-se o que Kardec, conhecedor da história da filosofia por sua educação pestalozziana, apropria-se de determinado filósofo para auxiliar no entendimento do conhecimento que os espíritos transmitem e o que de pensamento filosófico, deve distanciar-se. Dessa maneira, Kardec vai ao encontro de filosofias históricas por um lado e de encontro por outro.
Ao encontro de Parmênides, unindo-se a este, está o fato de Kardec utilizar, inclusive aos moldes do que Agostinho fez, os atributos do Ser de Parmênides para consolidar os atributos divinos na codificação. Ao definir Deus como imutável, perfeito, único e atemporal, buscando essa confirmação de atributos com os espíritos, Kardec ressignifica religiosamente o Ser de Parmênides vinculando os atributos da verdade primeiramente encontrado pelo eleata, na conceituação e nomenclatura religiosa, de tradição judaico-cristã, Deus.
Por outro lado, de encontro a Parmênides, ou seja, distanciando-se deste, Kardec não chega as conclusões monistas do pensador pré-socrático. O monismo de Parmênides vem de uma perspectiva dualista exclusiva onde a existência do Ser necessariamente exclui a possibilidade de o Não-Ser existir. Em linguagem lógica ou o Ser existe ou o Não-ser existe. Como Parmênides deixa claro que o Não-ser não é, portanto, a única coisa verdadeira é o Ser. Assim, o inicial dualismo de Parmênides, por ser caráter lógico exclusivo, desemboca em uma visão monista da verdade. A visão de Kardec em “O Livro dos Espíritos”, sustentada pelos espíritos, é a de um dualismo inclusivo. Substituindo os termos Ser ou Não Ser, por uma linguagem judaico cristã, Criador ou Criação, Kardec não acredita que a existência de um necessariamente leve ao outro a ser ilusório. Assim, do ponto de vista lógico, seu dualismo é de um único “ou” de Criador ou Criatura, e não do duplo “ou” de Parmênides que defendia “ou” Ser “ou” Não-Ser. Essa pequena diferença linguística e lógica muda filosoficamente toda a compreensão do Espiritismo se comparado ao filósofo eleata. A diferença entre o Monoteísmo judaico cristão, assimilado por Kardec, e o Monismo de Parmênides está justamente aqui. O dualismo de Kardec é inclusivo, pois, ao separar Criador de Criatura, Deus de Matéria e Espírito, o codificador demonstra que estas realidades possuem qualidades diferentes. Todavia, não existe um lado verdadeiro que torne, necessariamente, o outro ilusório. Ou seja, pode -se afirmar que Deus é verdadeiro, sem necessariamente, afirmar que a criação é ilusória. Já a ideia monista deriva desse dualismo exclusivo, onde necessariamente o contrário da verdade precisa ser ilusão. Tal lógica fomentou o monismo de Parmênides, bem como o monismo de Spinoza na modernidade mesmo com suas diferenças de origem para a conclusão monista. Ao rejeitar o monismo nessa forma clássica, Kardec rejeita prioritariamente o dualismo exclusivo, resolvendo um dos maiores problemas lógicos da reflexão teológica moderna. A existência de Deus como verdade não obriga a criação a ser ilusório o que, por conseguinte, não obriga a tudo ser Deus. Defender Deus como verdade não obriga logicamente o ser humano a colocar o relativo a ele, ou seja, a criação como ilusão. Compreende -se assim, filosoficamente, o monoteísmo defendido pela religião cristã e confirmada no espiritismo. Deus é verdadeiro e a criação extrínseca a ele, mesmo não sendo da qualidade idêntica a Ele, não é, necessariamente, ilusória. Não precisa existir esse aparente paradoxo lógico que os monistas, de Parmênides à Spinoza, quiseram demonstrar para defender o monismo divino como a única forma lógica de se crer em Deus ao contrário do monoteísmo cristão. O que existe no pensamento lógico são disjunções exclusivas e inclusivas e não apenas as exclusivas como apresentadas na teoria de Parmênides. Aristóteles ao criar à lógica e incentivar a formulação as tabelas de verdade, alguns séculos depois, visou corrigir essa distorção de percepção de que as disjunções necessariamente precisam se excludentes. A disjunção para entender a diferença entre Deus, Espírito e Matéria, do Espiritismo, por exemplo, é inclusiva e não exclusiva.
A Doutrina dos Espíritos, reforça -se o argumento, baseia-se, portanto, no monoteísmo Judaico-Cristão, onde a lógica de oposição entre Criador ou Criatura é disjuntiva inclusiva. Isso também corrige a distorção, agora da tradição cristã de pensar que o lado do criador é bom enquanto o da criação, necessariamente, mau. Essa qualificação também advém de uma lógica exclusivista do pressuposto dualista e não encontra eco na filosofia espírita. A lógica disjuntiva exclusiva levou pensadores ao monismo aos moldes ocidentais bem como a lógica de soma das partes para se formar um todo, ao panteísmo, aqui mais ligado ao pensamento do monismo oriental, O Espiritismo se forma distante destes na filosofia de Kardec, entretanto, também, não aceita a desqualificação da matéria que algumas linhas do monoteísmo cristão assumiram em sua interpretação dualista que empurrou muitos espiritualistas e cristãos para interpretação monista por recusar a olhar a matéria, em si, como pecaminosa. O espiritismo consolida, assim o dualismo inclusivo onde, criador e criatura, podem ter qualidades de natureza diferentes, sem serem vistos como excludentes, em uma lógica de benigno versus maligno entre o ambiente espiritual e o material. O dualismo inclusivo exposto no espiritismo é a chave de leitura para o bem entender do monoteísmo cristão em sua essência. A conversa de Kardec com Parmênides permite, incialmente, ver esse ponto, mas é na conversa entre Kardec e Platão e entre Kardec e Agostinho que isso se comprovará. Mas antes disso, vamos ver a relação de Kardec com outro pré-socrático, Heráclito, para que a caminhada histórica da filosofia se mantenha na obra.







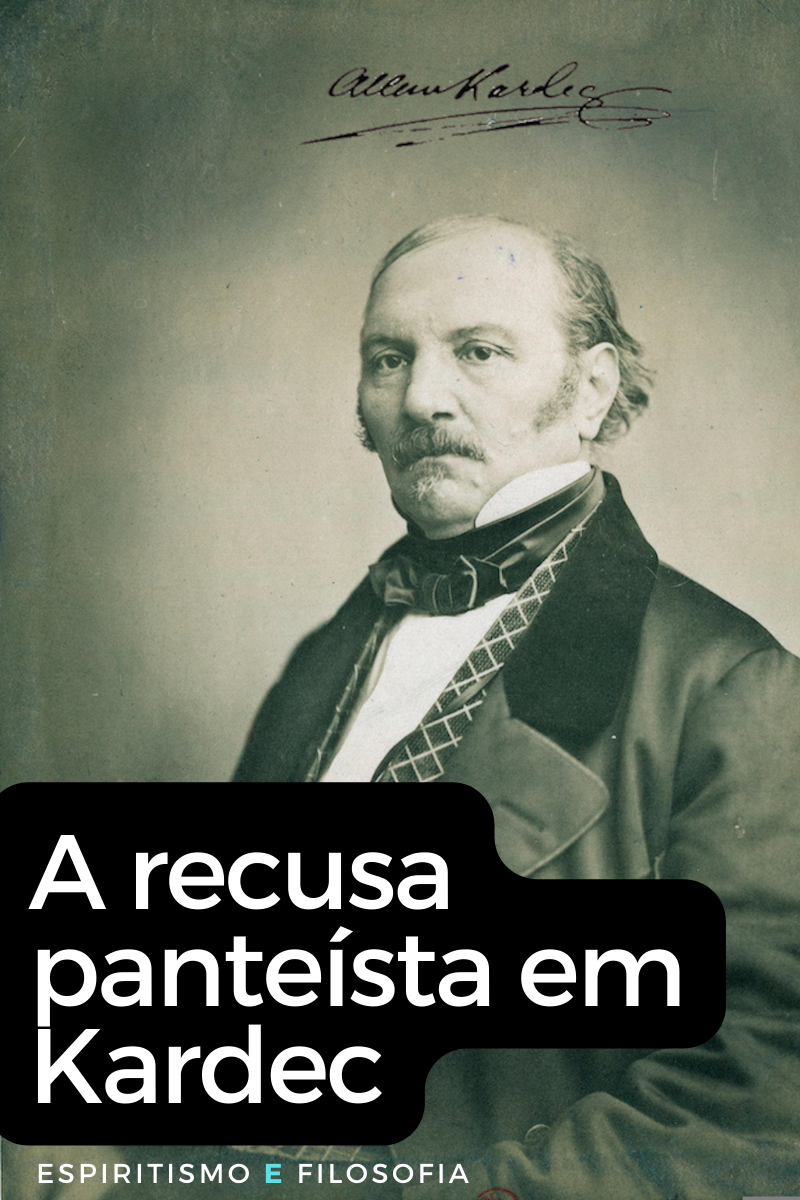


Comentários